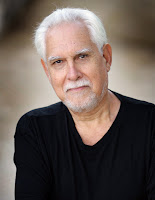No dia 14 de Maio de 1985, as pequenas editoras,
No dia 14 de Maio de 1985, as pequenas editoras,cansadas de discriminações,
afrontaram as grandes empresas do sector.
Não há notícia de ter ocorrido em qualquer parte do mundo uma rebelião de pequenas editoras. Foi o caso que um conhecido organismo associativo, de seu nome completo Associação Portuguesa dos Editores e Livreiros, vulgo APEL, delberou, certo dia, em consenso da respectiva direcção (presidida por Fernando Guedes), proibir a exposição e venda de revistas culturais na 55ª Feira do Livro de Lisboa (1985). Tentando mais tarde fundamentar as razões de tão incongruente determinação censória, a direcção da APEL "explicaria" que o certame era de livros e não de revistas. E mais não adiantou. Abateu-se sobre a APEL, em clamor, a pergunta: a Feira do Livro não é, então, uma feira de cultura? Mas a APEL não quis emendar a mão e insistiu: proibição absoluta de entrada na Feira de tudo quanto não tivesse forma de livro. Ficavam excluídos, desse modo, não só as revistas culturais mas também os posters de poesia que ao tempo constituíam a maior parte da produção das Edições ITAU.
A breve trecho se tornou claro aos olhos de toda a gente que a medida discricionária não era mais que um iníquo biombo atrás do qual se escondiam os interesses das grandes editoras, representadas em peso na liderança associativa. Editoras de livros, só de livros, evidentemente, porque fazer revistas culturais, nesta terra, de facto só por "carolice". Desalmada premissa, aquela de supor que os visitantes, gastando o dinheiro em revistas e posters, não lhes sobraria para comprar livros.
A poucos dias da inauguração estrepitou a histórica rebelião das pequenas editoras. Batidas durante todo o ano por ventos adversos, tinham-se habituado à fugaz bonança que para elas representava a Feira do Livro: era nesse lugar e nesse tempo que escoavam em quantidade minimamente expressiva as suas edições e por essa forma arranjavam fôlego para sobreviver até à Feira do ano seguinte. Cruenta realidade, mas era (é) mesmo assim.
Além disso, sabemos no que resulta uma paixão proibida. Só o não sabia, ao que parece, a direcção da APEL.
Em menos de 24 horas juntaram-se à mobilização para a "guerra" dezenas de editoras que tão-pouco produziam revistas de cultura. Simplesmente estavam cansadas de anos consecutivos de arbitrários procedimentos que sempre as colocavam num plano de desvantagem em relação às grandes empresas do sector.
Começou a circular um "jornal de luta" com sucessivas edições nas quais se dava conta à população da enormidade daquele planeado crime de lesa-cultura. Recolheram-se e publicaram-se numerosos depoimentos de figuras gradas da literatura. Elaborou-se um "Manifesto" e promoveu-se uma conferência de imprensa que fez repercutir em todos os meios a decisão assumida por cerca de quarenta editoras de manterem os pavilhões encerrados enquanto a medida censória não fosse revogada.
O episódio cedo transcendeu o âmbito de uma proibição circunscrita ao regulamento de um certame para se transformar num "caso do dia". Nunca a Imprensa e a Rádio (também a RTP, mais tarde) dispensaram espaço tão alargado a uma Feira do Livro como sucedeu com esta agitada 55ª edição. No final, o movimento de contestação quase submergiu os próprios promotores e diluiu-se num debate impetuoso sobre a necessidade de renovação da Feira do Livro de Lisboa.
Abreviando. No dia da inauguração houve uma mudança de estratégia. As pequenas editoras uniram-se num acto colectivo de desobediência. A direcção da APEL viu-se confrontada com um facto hilariante: as revistas de cultura, que de costume eram vendidas por meia dúzia de editoras, estavam agora expostas em mais de trinta pavilhões. O mesmo se passava com os posters de poesia. Um portentoso plano táctico. Ninguém acatou a proibição (excepção: Imprensa Nacional).
 A VISITA INAUGURAL DO MINISTRO DA CULTURA
A VISITA INAUGURAL DO MINISTRO DA CULTURAQuando o ministro da Cultura, Coimbra Martins, chegou para a inauguração, com um atraso de mais de meia hora, os representantes das pequenas editoras cortaram-lhe o passo, logo à entrada (ver foto, extraída directamente de um diário; à esquerda é reconhecível Krus Abecassis, presidente do Município). Coube ao poeta Júlio Roberto (à direita na foto) entregar-lhe o "Manifesto" e fazer a oferta de um poster com um poema de Florbela Espanca, não deixando de assinalar que a simples exposição daquele "produto espúrio" estava proibida na Feira...
Soube-se mais tarde o motivo do atraso: foi recebida no ministério da Cultura a informação telefónica de que conviria fazer um compasso de espera porque... «as coisas no Parque Eduardo VII estão um bocado complicadas.»
A APEL teve de render-se. Resta dizer: as pequenas editoras que desencadearam esta luta contra um acto de censura gravemente lesivo da função cultural de uma Feira do Livro ter-se-iam visto condenadas ao silêncio, sem apelo nem agravo, se a sua voz não tivesse ecoado como padrão da mais empolgante unidade e solidariedade. Por outro lado, o fragor a que se assistiu só foi possível graças a uma comunicação social sensível, independente, isenta. Não era difícil pressentir a justiça e o bom senso da causa defendida pelas pequenas editoras. Mas outra força não tinham naquele confronto desigual. De um lado estavam (estão) empresas editoras poderosas, algumas das quais se incluem no grupo dos grandes anunciantes na Imprensa; do outro estavam (estão) uns tipos "carolas" que sofrem em silêncio à cruel pergunta:
... Revistas de cultura? Então isso dá algum dinheiro que se veja?...